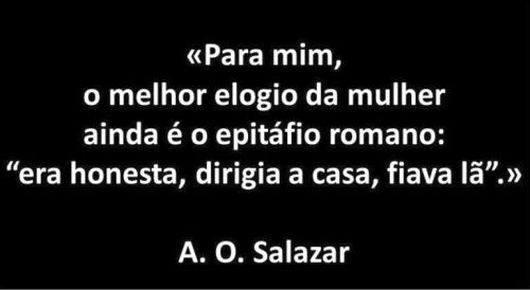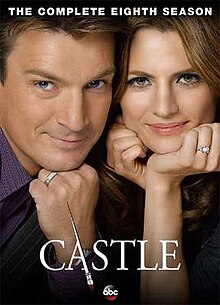* desenhos em nanquim de Samantha Wall ilustram o post.
* desenhos em nanquim de Samantha Wall ilustram o post.
Pessoas criam pensamentos absurdos em nome dos quais, um dia ou outro, passam a rezar e a prestar contas. Outras se opõem ao pensamento em si, como um espelho que só sabe refletir o contrário. O mais comum, no entanto, é querer apenas chegar até o fim do dia. Nada pensar e existir somente. Não se trata de irracionalidade; é que o mais urgente é alheio à razão, não se afeta pelo pensamento, sendo também indiferente ao que sentimos.
De fato gostamos do “teatro”, como se a chuva tivesse que cair porque não poderia ser diferente. Sentimos orgulho ou culpa porque viver é urgente: crianças fingindo ser adultos e vice-versa, sabendo que cada instante é um a menos e que todas as escolhas levam a um mesmo fim. Não há quem não se importe com nada. E mesmo no caso dos papéis “desinteressados”, do tipo kantiano, estoico ou zen-budista, o pensamento permanece ali, como que nos espionando, num entediante jogo de quem é que ri primeiro.
A brincadeira é a mesma, dar uma existência ao que já existe, porque invariavelmente nada muda o fim de tudo que existe. Não mais existir. É este desnecessário “existir” que vai querer ser mais do que isso, um quase-nada. Mas o nada que ele não deixa de ser permanece indiferente, alheio ao que se faz com ele, o que não nos impede de (re)vesti-lo: desacreditamos em algo com a mesma facilidade com que voltamos a acreditar noutra coisa. Não é uma questão de crença, é que o nada não anula a possibilidade de pensamento (que também é nada), pois é propriamente nada o que possibilita todas as possibilidades.
 Em outros termos, trata-se de “acaso”, que não é nada além do que acontece, sem qualquer princípio ou fundamento além da própria falta de princípio ou fundamento. Não é que o mundo seja incompleto ou insuficiente (em relação a quê?), é que não há nada que possa nos assegurar que a vida seja regida por qualquer coisa além dela mesma. Esplêndido é perceber como tal enunciado, assim como qualquer lógica que explique a realidade, não indica nada de real, apesar de ser pensável. Quer dizer, ao pensamento cabe menos decifrar o real do que, antes, fazê-lo “falar” por meio de uma sucessão de olhares sobre um mesmo nada.
Em outros termos, trata-se de “acaso”, que não é nada além do que acontece, sem qualquer princípio ou fundamento além da própria falta de princípio ou fundamento. Não é que o mundo seja incompleto ou insuficiente (em relação a quê?), é que não há nada que possa nos assegurar que a vida seja regida por qualquer coisa além dela mesma. Esplêndido é perceber como tal enunciado, assim como qualquer lógica que explique a realidade, não indica nada de real, apesar de ser pensável. Quer dizer, ao pensamento cabe menos decifrar o real do que, antes, fazê-lo “falar” por meio de uma sucessão de olhares sobre um mesmo nada.
Com efeito, o Dioniso do Nietzsche mais velho incorpora os traços anteriormente atribuídos a Apolo – trata-se afinal de um mesmo princípio, ou ausência de princípio, de intensificação da vida. Quero crer que tal conjunção se explique pelo itinerário que, particularmente, tenho trilhado em relação às artes visuais: desenhar era um esforço distinto do pensamento filosófico – duas coisas que, contudo, foram se tornando uma coisa só. Essa compreensão não me veio como uma revelação repentina; pelo contrário, ela apareceu lentamente, como algo insignificante e sem qualquer necessidade, como um hábito não percebido.
Ocorre que este hábito, na medida em que era cultivado, tornava-se cada vez mais urgente, como tomar água quando se está com sede. Um hábito é o contrário de uma mudança radical, porque se dá justamente pela repetição, pelos gestos automáticos. Incorpora-se com rigor um modus operandi de fazer algo sem precisar pensar muito. E não por uma questão de necessidade ou finalidade: nunca me senti “destinado” a desenhar, apenas me deixei afetar pela intensificação de um exercício insignificante. Eu quis fazer do acaso um hábito.
Para ilustrar o que digo: a musicista Nina Simone sonhava em ser a primeira pianista clássica negra, mas fora reprovada na universidade. Passou a ganhar a vida cantando blues em barzinhos, tornando-se a voz do movimento negro pelos direitos civis nas décadas de 1950-60. Quanto mais crescia seu ativismo anti-segregação, mais eram lhe fechadas as portas, as rádios, os palcos. Em entrevista a uma rádio europeia, Nina declarou: “se eu tivesse me tornado uma pianista clássica, teria sofrido menos”. O ponto é que tal sofrimento confessado se confunde, especialmente em suas músicas, com uma alegria indiscutível e incomensurável. Não é o caso de um gosto pelo sofrimento, e sim de um modo de ser alegre mesmo diante do pior sofrimento.
A música de Nina Simone não expressava uma lógica de resistência violenta, apenas um hábito de cantar sobre a vida. E aos poucos tenho sentido certa alegria em apenas chegar em casa, nada pensar e desenhar somente. Claro que o pensamento permanece ali, tentando dar conta de tamanha urgência. “Pois no fundo nada mudou para ele e ele não sabe mais do que antes: não tem argumento algum para invocar em favor da existência, continua perfeitamente incapaz de dizer por que e em vista de que ele vive – e no entanto acha, doravante, a vida indiscutível e eternamente desejável” (Clément Rosset, Alegria: a força maior. Relume-Dumará, 2000, p. 27).
 Penso que é nesta lógica habitual que o criar artístico não se distingue do contemplar, do interpretar e do avaliar (moral, científico, filosófico etc.) – são hábitos movidos por uma urgência que não se justifica. Sofrer ou alegrar-se, tanto faz. Porque existir é tão desnecessário quanto injustificável, mas urgente. Daí que Nietzsche negava a possibilidade de uma arte-em-si, de uma “arte pela arte”; ao invés disso, a finalidade da arte é, segundo ele, retornar para a vida que a engendrou, intensificando-a.
Penso que é nesta lógica habitual que o criar artístico não se distingue do contemplar, do interpretar e do avaliar (moral, científico, filosófico etc.) – são hábitos movidos por uma urgência que não se justifica. Sofrer ou alegrar-se, tanto faz. Porque existir é tão desnecessário quanto injustificável, mas urgente. Daí que Nietzsche negava a possibilidade de uma arte-em-si, de uma “arte pela arte”; ao invés disso, a finalidade da arte é, segundo ele, retornar para a vida que a engendrou, intensificando-a.
Afastarmo-nos das coisas até que não mais vejamos muito delas e nosso olhar tenha de lhes juntar muita coisa para vê-las ainda – ou ver as coisas de soslaio e como que em recorte – ou dispô-las de forma tal que elas encubram parcialmente umas às outras e permitam somente vislumbres em perspectivas – ou contemplá-las por um vidro colorido ou à luz do poente – ou dotá-las de pele e superfície que não tenha completa transparência: tudo isso devemos aprender com os artistas, e no restante ser mais sábios do que eles. Pois neles esta sutil capacidade termina, normalmente, onde termina a arte e começa a vida; mas nós queremos ser os poetas de nossas vidas, e primeiramente nas pequenices e cotidianidades. – Nietzsche, A gaia ciência, § 299 (São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 202).
Não há lugar onde termina a arte e começa a vida. Porque as intensidades que formam uma obra, nos termos nietzschianos, são também as que formam a vida. O que Nietzsche chama de arte, pois, não se restringe à atividade propriamente artística, mas indica uma maneira de filosofar, uma boa consciência para com o nada e o sofrimento, um “saber lidar” com a vida desprovida de significado inerente. Não se trata de defender um modo de vida no âmbito dos imperativos morais, e sim de elogiar o hábito da intensificação pela insignificância.
 Tanto o prazer quanto o sofrimento são insignificantes mediante a finitude de uma existência dada ao acaso: eis também a intensidade de sofrer ou deleitar-se. É dessa conjunção que desponta a perspectiva trágica no pensamento: “Trágico designa a forma estética da alegria, não uma forma medicinal, nem uma solução moral da dor, do medo ou da piedade. O que é trágico é a alegria” (Deleuze, Nietzsche e a filosofia. Porto: Rés, 2001, p. 29).
Tanto o prazer quanto o sofrimento são insignificantes mediante a finitude de uma existência dada ao acaso: eis também a intensidade de sofrer ou deleitar-se. É dessa conjunção que desponta a perspectiva trágica no pensamento: “Trágico designa a forma estética da alegria, não uma forma medicinal, nem uma solução moral da dor, do medo ou da piedade. O que é trágico é a alegria” (Deleuze, Nietzsche e a filosofia. Porto: Rés, 2001, p. 29).
Esse tipo de conduta, enfim, parece-me análogo ao hábito do desenho: implica não querer nada diferente do que é. Se a arte não é um fim em si mesmo, e sim um hábito de intensificar a vida, o pensamento filosófico equivale a “não querer nada de outro modo, nem para diante, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, e menos ainda dissimulá-lo [...], mas amá-lo” (Nietzsche, Obras incompletas. Abril Cultural, 1983, p. 374). Assim o traço se confunde com o que se traça, tal como os pensamentos matinais se dissolvem nos gestos apressados ao fim do dia. Incógnitos e alegres, entregamo-nos à rotina.